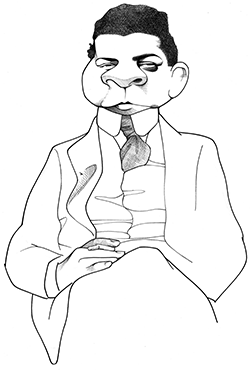Fonte: Toda crônica. Apresentação e notas de Beatriz Resende; organização de Rachel Valença. Rio de Janeiro, Agir, 2004, vol. I, p.73. Publicada, originalmente, na Gazeta da Tarde, de 27/04/1911 e, posteriormente, no livro Vida urbana, Brasiliense, 1956, p.49.
É de uso que, nas sobremesas, se façam brindes em honra ao aniversariante, ao par que se casa, ao infante que recebeu as águas lustrais do batismo, conforme se tratar de um natalício, de um casamento ou batizado. Mas, como a sobremesa é a parte do jantar que predispõe os comensais a discussões filosóficas e morais, quase sempre, nos festins familiares, em vez de se trocarem ideias sobre a imortalidade da alma ou o adultério, como observam os Goncourts, ao primeiro brinde se segue outro em honra à mulher, à mulher brasileira.
Todos estão vendo um homenzinho de pince-nez, testa sungada, metido numas roupas de circunstâncias, levantar-se lá do fim da mesa; e, com uma mão ao cálice, meio suspenso, e a outra na borda do móvel, pesado de pratos sujos, compoteiras de doce, guardanapos, talheres e o resto – dizer: “Peço a palavra”; e começar logo: “Minhas senhoras, meus senhores”. As conversas cessam; dona Lili deixa de contar a dona Vivi a história do seu último namoro; todos se aprumam nas cadeiras; o homem tosse e entra em matéria: “A mulher, esse ente sublime...”. E vai por aí, escachoando imagens do Orador familiar e fazendo citações de outros que nunca leu, exaltando as qualidades da mulher brasileira, quer como mãe, quer como esposa, quer como filha, quer como irmã.
A enumeração não foi completa; é que o meio não lhe permitia completá-la.
É uma cena que se repete em todos os festivos ágapes familiares, às vezes mesmo nos de alto bordo.
Haverá mesmo razão para tantos gabos? Os oradores terão razão? Vale a pena examinar.
Não direi que, como mães, as nossas mulheres não mereçam esses gabos; mas isso não é propriedade exclusiva delas e todas as mulheres, desde as esquimós até às australianas, são merecedoras dele. Fora daí, o orador estará com a verdade?
Lendo há dias as Memórias, de Mme d’Épinay, tive ocasião de mais uma vez constatar a floração de mulheres superiores naquele extraordinário século XVIII francês.
Não é preciso ir além dele para verificar a grande influência que a mulher francesa tem tido na marcha das ideias de sua pátria.
Basta-nos, para isso, aquele maravilhoso século, onde não só há aquelas que se citam a cada passo, como essa Mme d’Épinay, amiga de Grimm, de Diderot, protetora de Rousseau, a quem alojou na famosa “Ermitage”, para sempre célebre na história das letras; e Mme du Deffant, que, se não me falha a memória, custeou a impressão do Espírito das leis. Não são unicamente essas. Há mesmo um pululamento de mulheres superiores que influem, animam, encaminham homens superiores do seu tempo. A todo momento, nas memórias, correspondências e confissões, são apontadas; elas se misturam nas intrigas literárias, seguem os debates filosóficos.
É uma Mme de Houdetot; é uma marechala de Luxemburgo; e até, no fundo da Saboia, na doce casa de campo de “Charmettes”, há uma Mme de Warens que recebe, educa e ama um pobre rapaz maltrapilho, de quem ela faz mais tarde Jean-Jacques Rousseau.
E foi por ler Mme d’Épinay e recordar outras leituras que me veio pensar nos calorosos elogios dos oradores de sobremesas à mulher brasileira. Onde é que se viram no Brasil essa influência, esse apoio, essa animação das mulheres aos seus homens superiores?
É raro; e todos que o foram, não tiveram com suas esposas, com suas irmãs, com suas mães essa comunhão nas ideias e nos anseios que tanto anima, que tantas vantagens traz ao trabalho intelectual.
Por uma questão qualquer, Diderot escreve uma carta a Rousseau que o faz sofrer; e logo este se dirige a Mme d’Épinay, dizendo: “Se eu vos pudesse ver um momento e chorar, como seria aliviado!”. Onde é que se viu aqui esse amparo, esse domínio, esse ascendente de uma mulher; e, entretanto, ela não era nem sua esposa, nem sua mãe, nem sua irmã, nem mesmo sua amante!
Como que adoça, como que tira as asperezas e as brutalidades, próprias ao nosso sexo, essa influência feminina nas letras e nas artes.
Entre nós, ela não se verifica e parece que aquilo que os nossos trabalhos intelectuais têm de descompassado, de falta de progressão e harmonia, de pobreza de uma alta compreensão da vida, de revolta clara e latente, de falta de serenidade vem daí.
Não há num Raul Pompeia influência da mulher; e cito só esse exemplo que vale por legião. Se houvesse, quem sabe se as suas qualidades intrínsecas de pensador e de artista não nos poderiam ter dado uma obra mais humana, mais ampla, menos atormentada, fluindo mais suavemente por entre as belezas da vida?
Como se sente bem a intimidade espiritual, perfeitamente espiritual, que há entre Balzac e a sua terna irmã, Laura Sanille, quando aquele lhe escreve, numa hora de dúvida angustiosa dos seus tenebrosos anos de aprendizagem: “Laura, Laura, meus dois únicos desejos, ‘ser célebre e ser amado’, serão algum dia satisfeitos?”. Há disso aqui?
Se nas obras dos nossos poetas e pensadores passa uma alusão dessa ordem, sentimos que a coisa não é perfeitamente exata, e antes o poeta quer criar uma ilusão necessária do que exprimir uma convicção bem-estabelecida. Seria melhor talvez dizer que a comunhão espiritual, que a penetração de ideias não se dá; o poeta força as entradas que resistem tenazmente.
É com desespero que verifico isso, mas que se há de fazer? É preciso ser honesto, pelo menos de pensamento...
É verdade que os homens de inteligência vivem separados do país; mas se há uma pequena minoria que os segue e acompanha, devia haver uma de mulheres que fizesse o mesmo.
Até como mães, a nossa não é assim tão digna dos elogios dos oradores inflamados. A sagacidade e agilidade de espírito fazem-lhes falta completamente para penetrar na alma dos filhos; as ternuras e os beijos são estranhos às almas de cada um. Sonho do filho não é percebido pela mãe; e ambos, separados, marcham no mundo ideal. Todas elas são como aquela de que fala Michelet:
“Não se sabe o que tem esse menino”. “Minha Senhora, eu sei: ele nunca foi beijado”.
Basta observar a maneira de se tratarem. Em geral, há jeitos cerimoniosos, escolhas de frases, ocultações de pensamentos; o filho não se anima nunca a dizer francamente o que sofre ou o que deseja e a mãe não o provoca a dizer.
Sem sair daqui, na rua, no bonde, na barca, poderemos ver a maneira verdadeiramente familiar, íntima, sem morgue nem medo, com que as mães inglesas, francesas e portuguesas tratam os filhos e estes a elas. Não há sombra de timidez e de terror; não há o “senhora” respeitável; é “tu”, é “você”.
As vantagens disso são evidentes. A criança habitua-se àquela confidente; faz-se homem e, nas crises morais e de consciência, tem onde vazar com confiança as suas dores, diminuí-las, portanto, afastá-las muito, porque dor confessada é já meia dor e tortura menos. A alegria de viver vem e o sorumbatismo, o mazombo, a melancolia, o pessimismo e a fuga do real vão-se.
Repito: não há tenção de fazer uma mercurial desta crônica; estou a exprimir observações que julgo exatas e constato com raro desgosto. Antes, o meu maior desejo seria dizer das minhas patrícias aquilo que Bourget disse da missão de Mme Taine, junto a seu grande marido, isto é, que elas têm cercado e cercam o trabalho intelectual de seus maridos, filhos ou irmãos de uma atmosfera na qual eles se movem tão livremente como se estivessem sós, e onde não estão de fato sós.
Foi, portanto, combinando a leitura de uma mulher ilustre com a recordação de um caso corriqueiro da nossa vida familiar que consegui escrever estas linhas. A associação é inesperada; mas não há do que nos surpreender com as associações de ideias.