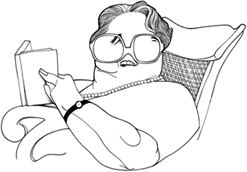O homem está sozinho no seu quarto de hospital. Paga caro por aquele luxo que se chama apartamento privativo. Mas sozinho. E pensa. ― Não sabe se vai morrer, não sabe se vai ficar bom, não sabe sequer o que tem. Tiram-lhe sangue, tiram-lhe do corpo vários líquidos e exsudações, fazem-lhe exames. Elétrodos nos pulsos e nos tornozelos, relógios elétricos lhe reproduzindo as batidas do coração. Sondas. Agulhadas. Mas tão só, tão só! Será que o vão operar? Será que é possível operar? Será que não é mais possível operar? Os médicos vão e vêm, confabulam entre si, contam anedotas, e não pensam na angústia do homem só. Para eles a doença é um problema técnico ― e está certo; mas será que se lembram de que, para o enfermo, aquele problema técnico, aquele jogo delicado de possibilidades e hipóteses é, literalmente, um assunto de vida e morte? Literalmente a sua vida e a sua morte?
O homem enfermo pensa, melancolicamente, que há certos privilégios que valem menos do que a sua falta. Se em vez daquele quarto especial, no hospital silencioso e rico, à sombra do parque e do jardim, estivesse numa enfermaria pública, à beira rua.... Não apenas as paredes verde-claras, não apenas a odiosa enfermeira de cara cor de tijolo e sotaque gutural, que de longe em longe aparece e lhe pergunta qualquer coisa num falso tom de animação. Não apenas aquela cama articulada, isolada como uma ilha no chão encerado. Mas muitas camas, outros homens, todos doentes. Na hora da comida, não a dieta na vasilha térmica, que, mesmo estando quente, parece sempre gelada ― mas a boia coletiva vinda no carrinho ― que se discute, que se rejeita, que se troca uns com os outros. Os cigarros escondidos que o que está melhor empresta ao que está pior. E, acima de tudo, homens, homens, cada um com o seu problema e a sua história, o conforto da companhia humana, as delícias da promiscuidade!
Acontece que o homem, animal gregário por definição, procura, entretanto, por um desvio perverso da sua natureza, distinguir-se sempre que pode dos demais do rebanho, fugir ao seu gregarismo essencial; mal sobe, socialmente, a sua primeira preocupação é isolar-se, escapar ao contato com os outros, viver consigo, ou dentro de um pequeno círculo de familiares e servidores; e esses mesmos servidores ele os desumaniza até transformá-los em máquinas, e não há solidão maior do que a solidão do grande ou do rico entre os seus criados.
Ah, e o pobre menino rico, trancado na nursery, tão sozinho de noite em seu berço, acordando no escuro, sem o conforto da mãe bem junto, sem a cantiga de ninar, submetido à rígida disciplina do pediatra e da nurse. Que sabem da ânsia de companhia do seu coraçãozinho medroso aquela mulher de aluguel, aquele doutor que estuda as crianças nos livros? E pensar na felicidade dos meninos pobres, das famílias grandes, a criançada toda atirada a um só quarto, muitas vezes dormindo numa só cama, empurrando-se, brigando, vivendo ― vivendo! Com o direito de apanhar micróbios, de comer pão sujo, de dizer palavra feia, de andar descalço e, melhor que infringir regras ― de não ter regras!
*
Na tragédia do Presidente Vargas o que mais me impressionou não foi o tiro no peito, não foi o drama político: foi a espantosa solidão em que vivia aquele homem. O quarto feio e grande, no Catete, que parecia uma cela de preso: nele o seu morador dormia, comia, trabalhava. Sim, comia só. No palácio enorme, refugiava-se ali, fazia servir o seu almoço e o seu jantar numa mesa improvisada, sem ninguém, senão o criado silencioso. Por quê? Sem uma risada em torno dele, sem uma presença de criança, sem presença de mulher. E quando quis se matar, foi o mesmo de quando queria jantar ou dormir: sozinho, sem ninguém a dar boa-noite; não fez sequer o clássico bilhete dos suicidas. A quem o endereçaria?
*
Seria essa a causa maior do seu fim abrupto? Pois de que vale a luta pelo poder para quem é sozinho? Ou antes, o homem sacrifica tudo pelo poder, que lhe parece o dom supremo; mas quando o conquista, vê-se numa imensa solidão; que lá em cima, no rosto confuso da massa sobre a qual se ergueu, não distingue mais ninguém. E então para que lutar?
Viver, afinal, são os outros. Que é a glória senão o aplauso dos outros? Que é o poder senão a submissão, possivelmente o amor dos outros? Que é o dinheiro senão a possibilidade de comprar os outros? Tudo que enche o coração do homem bem-sucedido é sempre em relação aos outros ― os demais homens, nossos irmãos, nossos inimigos, nossos iguais de qualquer maneira. Para que pintar, para que escrever, para que representar, para que governar ― se não se conta com o amador, o leitor, a plateia, o correligionário? Será que o homem numa ilha deserta declamaria poemas, ou inventaria leis, ou pintaria murais?
E o homem poderoso, tão sozinho na sua culminância, não dá sempre a impressão de que vive a suplicar o interesse, o aplauso e até a presença dos outros lá de baixo?
Verdade que, para morrer, não se tem companhia. É impressionante, como se fica só quando se está morrendo. Pode vir a família inteira ajoelhar-se ao pé da cama, que o moribundo como que se isola numa redoma de vidro, ele e a sua agonia. Nada ajuda nem acompanha.
Sim, a gente nasce e morre só. Mas, talvez por isso mesmo, quer viver acompanhada.