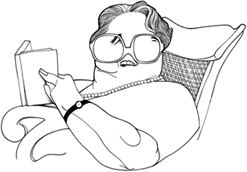Sim, bem amados leitores, sim: aqui no Cruzeiro, como em toda parte, o freguês sempre tem razão. Mas deem-me também um pouco de razão a mim, e não se irritem, não se zanguem, como o fazem alguns porque não costumo lhes responder às cartas. Uma vez, no rodapé de O Jornal dei amplas explicações a esse respeito, mas vocês ou não as leram, ou as esqueceram, o que é natural.
Talvez achassem que eu lhes deveria responder nesta página: mas isso é coisa impossível, porque a minha seção na revista não é de correspondência, é uma crônica. Temos várias seções de correspondência, a cargo de colegas ilustres, e não posso portanto me intrometer no terreiro alheio. Nem daria conta do recado, acrescente-se. Quanto a responder em cartas particulares, não pensem que é brincadeira, mas a verdade é que eu, pobre de mim, não posso absolutamente entreter uma tão nutrida correspondência particular. Vou entrar num assunto delicado, mas entre bons amigos nada há que não se explique – e negue-se tudo no mundo, mas não se negue a nossa amizade. O caso é este: hoje em dia, no Brasil, já existem pessoas que, ao contrário dos dois tipos clássicos do intelectual de outrora, – (o diletante endinheirado ou o idealista que morria de fome num sótão) – vivem exclusivamente do rendimento do que escrevem. Pagam contas, adquirem alimentos e objetos úteis com a remuneração obtida pelo seu trabalho intelectual. Para isso, logo que amanhece o dia, lavam os dentes, tomam banho e café, levantam a tampa da máquina e danam-se a ganhar o pão. Um artiguinho para cá, uma tradução para lá, e de um em um vai-se arrancando o vintém parco mas honesto.
Isso já quase nada tem que ver com inspiração, com amor às letras, nem arte pela arte, nem com todas aquelas coisas bonitas e antigas: é labor no duro, suor do rosto, frigir os miolos, para o almoço, como dizia não sei se Pinheiro Chagas ou outro português célebre.
E não sou eu apenas que vivo assim: somos inúmeros. Palavra escrita para nós é mercadoria, pede fatura e recibo. E você, leitor, deve até sentir-se constrangido de nos pedir cartas: é o mesmo que pedir que a gente lhe ponha no correio um valezinho postal equivalente ao que nos renderiam as linhas remetidas…
Já nos basta o ônus de ter que fazer livros, ocupação publicitária mais ou menos gratuita (10% sobre preço de capa nas nossas modestíssimas tiragens, em pagamento de um trabalho que às vezes custou anos); infelizmente o livro é coisa mais ou menos obrigatória, para o profissional, porque é o livro que firma o homem, e escritor sem livro não entra na Academia, não ganha nome de escritor, não coloca artigos nos jornais, não tem sequer onde assinar autógrafos para os amigos.
Havia o recurso de mandar fazer as respostas por uma secretária; mas vocês achariam um desaforo, e com todo fundamento, porque escrevem à gente e não à secretária.
Vamos pois fazer um acordo: fica de uma vez estabelecido que a minha resposta ao que me escrevem está implicitamente feita nestas crônicas. Aliás, quando se zangam, cometem um erro de interpretação. Porque na realidade eu é que lhes escrevo primeiro e vocês que me devem resposta. Quando toda semana, comprada a revista, lido o melhor do texto, vistas as figuras, decifrados os testes, vocês chegarem a esta última página, podem fazer de conta que rasgam um envelope e digam consigo: – Vamos ver o que me escreve hoje minha amiga R.Q.. Depois então os que quiserem peguem da pena e me deem o troco, que eu vou respondendo como possa – mas sempre nesta página e dentro das limitações desta página.
Agora umas palavras de caráter mais reservado: parem com esse negócio de me insuflar a escrever sobre política. Já lhes disse que o pessoal que manda na revista acha que vocês não se interessam em política. Acabam me fazendo desobedecer ao contrato – vocês são mesmo um precipício! E o que dizer a uma amável colega que me pergunta quando parto para Portugal? Amiga minha, sei que nada sou, mas assim mesmo ínfima, afirmo-lhe que eu, o General Franco e o Doutor Salazar não cabemos na mesma península. Lá hei de estar, se Deus quiser, para os brindes da alforria. Guardem-me um bom vinho velho para essa festa; verão que honras lhe faço.
Tenho ainda que rogar muita desculpa àqueles que me pedem retratos: confesso que venho descurando aflitivamente desse aspecto de relações com o público. Faz uns oito anos que não entro num fotógrafo para tirar retrato: depois que a gente “engana quem tinha que enganar”, se descuida de certas vaidades. Vasculhando bem na gaveta, posso achar uns retratinhos de carteira de identidade e o do requerimento para o título de eleitor. Mas no primeiro estou com uma cara sombria de mulher que envenenou a família inteira; aquela data no peito parece um número de presidiária. O outro, sendo retrato desses que se tiram e revelam em cinco minutos, ficou misterioso e flou como uma formação obscura de ectoplasma e não me representa propriamente a mim, mas tal como serei quando me materializar em sessões espíritas, depois de desencarnada.
Guardo-o pois para o oferecer nessa ocasião; mesmo porque – sation jamais? – talvez como o meu velho amigo Humberto de Campos, eu nem antes nem depois de morta me livre deste fadário, e tenha todas as semanas que sair da sepultura para escrever crônicas, para escrever crônicas.