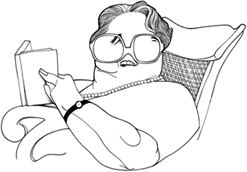Agora que já estreou na primeira página de O Cruzeiro a minha irmã caçula Maria Luísa, sinto-me mais ou menos na obrigação de a apresentar direito ao respeitável público, fornecendo os primeiros dados para a biografia daquela que, muito em breve, espero-o, deixará de ser conhecida como minha irmã: eu é que passarei a ser “a irmã da Maria Luísa, ― a mais velha, que também escreve...”
Talvez sejam pouco desejados, ao nascer, outros caçulas de família grande. A nossa, sendo a segunda menina numa casa onde só nasciam meninos, a impressão que nos deu a todos foi de que já nasceu tarde. Desejada e exigida vinha sendo há muito tempo ― a tal ponto que, já com a parteira na alcova, a nossa babá (que nos criara a todos), aproximou-se da cama onde a mãe esperava a sua hora, e advertiu-a severamente: “Se a senhora ainda tiver outro menino macho, eu vou-me embora desta casa”. A mãe teve receio, obedeceu, e daquela vez deu à luz uma menina. Nasceu ela de madrugada, e quase nasce sozinha, pois tínhamos saído todos em dois grupos para assistir a dois casamentos. E a nossa alegria geral foi superiormente expressa pela babá, que nas costas dum retrato da pequena, tirado alguns meses mais tarde, escreveu na sua letra incerta este arroubo da sua alma lírica: “Meus sonhos dourados ― realizados ― ao romper da aurora do dia 9 de setembro”.
Sim, era isso, meus sonhos dourados. Não posso contudo me gabar de que servi de mãe à garota, porque mãe ela tem, e nova, e bonita, e mandona, benza-a Deus. Mas com amor de mãe a tenho amado sempre, gastando com ela todas as minhas ternuras órfãs, de mulher sem filhos. Por ela aprendi a fazer sapatinhos de lã. Por ela fiz o que jamais houve colégio e freira que me pudesse obrigar: caprichei no bordado branco, em ponto miúdo e impecável, nas costuras em ponto aberto, nas rendas pregadas em roulouté. Fiz-lhe vestidos de gatinho, capas de croché, fantasias de diabrete, de boneca e de chinesa.
Com dois dias de nascida levou um golpe de ar ao sair do banho, e apanhou um defluxo; e posso dizer que foi a partir daí que a adotei definitivamente como filha, passando várias noites em claro, junto ao berço, enganando o sono com um livro, velando a preciosa, com medo que não fosse sufocar com o defluxo ― tão novinha era que, de todas as artes da vida, ainda não conhecia direito sequer a de respirar.
Cresceu ― aliás sempre cresceu pouco, nunca se dedicou muito a isso. Cresceu principalmente em boniteza. O cabelo louro escorrido, a pele quase da cor do cabelo, o nariz arrebitado, os olhos dourados. Com seis meses engatinhava pela casa inteira feito um gatinho; por sinal já era muito atrevida e teimosa, e só de uma coisa tinha medo: de pena de galinha. Quando se queria interditar uma porta, era pôr uma pena por perto ― e ela dava volta por longe, virando o rostinho, como se visse bicho.
Na noite em que mataram Sacco e Vanzetti, parece que ela adivinhou e adoeceu; e nós duas, a mãe e eu, acordadas em redor do berço, acompanhávamos em pensamento, pelo dial luminoso do relógio, o horário do cerimonial terrível que os jornais anunciaram por miúdos, fazendo até o desconto de tempo entre o Ceará e Massachusetts; na hora fatal, o nosso olhar erguido para o relógio se cruzou, e ambas nos agarramos ao berço com mão trêmula, e sentimos a impressão de que víamos a corrente da luz baixa, na lâmpada de cabeceira.
Maiorzinha, teve ela uma grande paixão: o moleque Severino, que a esse tempo roubava tostão e biscoito, e que hoje se ocupa em gatunices maiores, ― até rouba joia em casa rica e vai preso. Creio que jamais ente algum teve tal esplendor aos olhos da pequena: achava SEVEIINO engraçado, lindo, perfeito, inimitável. Deixava de comer bombom e chocolate para lhe dar. Mal o via, estirava os bracinhos, despencava do colo em que estivesse, aos gritos: “Seveiino! Seveiino!” Amou depois Maria Adília, mas conhecida por Maria Baié, misto de anã com bruxa, que recolhêramos certa vez, na estação do trem, metida num saco de estopa e pedindo esmola. Maria Baié tinha um gênio de fera para todo mundo, mas adorava crianças, e era por elas adorada.
A mim, a garota sempre teve como coisa sua, tão possuída, indiscutida e dominada que acrescentou um possessivo ao nome que me dera, na sua meia língua: chamava-me, como até hoje ainda me chama, ― que sua continuou a ser, fielmente: “Minha Teté”. Pidona, insistente, mal ouvida, isso sempre foi. Chegava junto de mim, por exemplo, levantava aqueles olhos pestanudos, me puxando a sala: “Minha Teté, me empeste o seu lápis encanado... o gande...” ― “Não lhe dou lápis não senhora, você perde. Já perdeu muitos”. ― "Me empeste, Mina tetezinha, bonitinha. Num perdo, boto na gaveta, juro! Me empesta, meu bem!”
Lá se ia o lápis. Dez minutos depois, cadê a menina? Já andava longe, no quintal. ― “Maria Luísa!” ― Nada. “Mariia Luiiisa!” ― Distante, debaixo das goiabeiras, vinha a vozinha fanhosa: “hein?!” ― “Maria Luísa, onde está o lápis que você pediu?” E de mais longe ainda, chegava a vozinha atrevida, se afastando: “Que lápis? O encanado? Num sei. Pedeu-se!”
Só lhe bati uma vez ― certa ocasião em que, de propósito, de malvadeza, o diabinho que teria então os seus dois anos, encheu-me os olhos de areia, à traição. E para falar a verdade, confesso, nunca tive remorsos, ― antes lembro com gosto que lhe ficou durante o dia inteiro em certo lugar, a marca dos meus cinco dedos.
E enfim, como escrevo tendo em vista a biografia, direi toda a verdade e só a verdade, embora traga um vergonhoso segredo de família: ela mamou até aos quatro anos. Um escândalo, mas verídico. Coisa de índio, de bugra, murmuravam as tias. Por isso, quando a mãe saía e dava a hora de mamar, a garota ia se sentar no degrau da cozinha, bem à vista do mulherio que rapava coco ou mexia os tachos de doce, e então se queixava:
― Coitadinha da bichinha! Coitadinha da bichinha!
E quando as mulheres a olhavam, ela punha dramaticamente a mão no peito, e explicava:
― A bichinha ― Eu!