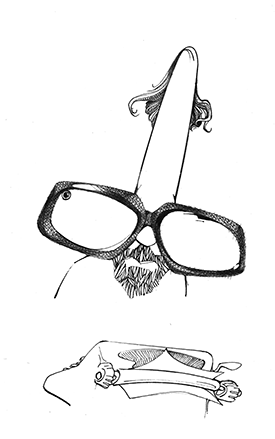1. A maravilhosa Eneida. A voz prateada e patinada. Comigo não tem esse negócio de ter morrido, não. Falei: “Drummond já escreveu um belo artigo, o Sérgio Cabral também, e os outros. Fico na moita”. E os dias foram passando, e uma como onipresente Eneida me acompanhava a toda parte, e dizia: “Escreve”. Tenho uma vaidade singular: penso que as pessoas que amo, de longe ou de perto, quando pressentem a sombra da asa, esboçam mentalmente a crônica que eu publicarei.
A valente Eneida era a própria vida. Terna e selvagem. Aqueles olhos verdes singularmente femininos. O olho da mulher ferido pela inteligência. Pessoa cuja ausência não se lamenta, por ter servido gota a gota o mel e o fel; um cálice quebrado assim que esvazia: — pode haver maior glória?
De todas as ocasiões em que estivemos juntos, ou em que pensamos um no outro, a que considero mais fantástica foi quando eu ia andando pela avenida Copacabana e uma voz patinada e prateada veio lá do fundo da minha memória: “Carlinhos! Carlinhos!” Mirei em todas as direções, e nada. A voz continuava, já não um delírio, era a voz de Eneida. Geograficamente eu estava perdido, pois nos víamos sempre na rua ou no mundo, e minhas eventuais saudades a localizavam no apartamento da Barão de Ipanema, perto da Colombo — ela e José, o gato. Então do outro lado da rua, em cima de uma (creio que) padaria, vi a cabeça de Eneida meio oculta sob a persiana. Estava à janela e gritava meu nome. Sorrimos. Atravessei a rua. Subi a escada. Nesse instante, disto me lembro fulgurantemente, formulei esta reflexão: “Ela conseguiu aquilo que o poetinha suplicou desesperada e inutilmente a Deus: Ser apenas Moraes, sem ser Vinicius”. Entrei e lhe disse isso, e ela riu. Era um pequeno apartamento atulhado de livros e de quadros e de objetos de arte primitiva, e Eneida disse que tinha cerveja na geladeira e eu respondi que em matéria de bebida tinha dado uma parada, por causa do fígado. E ela me mostrou…
Ela me mostrou o mundo. Abriu um número do Paris Match e me mostrou as fotografias coloridas dos distúrbios estudantis de 1968, em Paris. Moças e rapazes incendiando a Rive Gauche. A representação coreográfica de uma revolução. E ela exclamando: “Que beleza!” E eu repercutindo: “que beleza”, mas nessa apreciação incluindo a própria Eneida que lia as legendas das fotografias. Que beleza. Que ser bravio! Como se parece com uma fruta paraense, dessas de nome e fragrância misteriosos na opinião do resto do país; algo que vem da terra e cujo nome é, creio eu, infância. Ciclicamente desaparecida, Eneida renascia a mesma após cada crise. Seu coração batia naquele instante ao compasso da revolução; como sempre. Ou então surgia num teatro, como escritora e intérprete de uma história da música popular brasileira, ilustrada pela cantora Marlene. Eneida era, Eneida é eterna.
Desde os tempos do Baile do Pierrô. Do Café Vermelhinho. Sempre a mesma, e eu sempre o mesmo — incorrigíveis. Nunca houve entre nós a ideia de que éramos de diferentes idades. Simplesmente nunca nos passou pela cabeça. Mãe de Léia, que é mãe de Andréa, que é mãe de um bebê, nela nunca vi senão a juventude exuberante.
De modo que não poderia, por minha vez, subir ao limbo, sem levar numa dobra da túnica esta crônica de adeus.